I
Examinar os esforços de reconstrução de três grandes cidades europeias foi a ingente tarefa a que se dedicou o historiador inglês Kenneth Maxwell ao escrever The Tale of Three Cities – The Rebuilding of London, Paris, and Lisbon (Robbin Laird, editor, Second Line of Defense, 2025), obra que acaba de ser lançada na Inglaterra e nos Estados Unidos com textos em inglês, português e francês. É o resultado da leitura que o autor fez na abertura de um colóquio internacional sobre Arte e Literatura Luso-Brasileira, realizado na Universidade de Harvard, em setembro de 2024.
Nesse documento, intitulado “Disaster & Reconstruction: The Challenge of Modernism”, Maxwell analisa os efeitos causados por um grande incêndio em Londres, ocorrido em 1668, e os planos do notável arquiteto Christopher Wren (1632-1723) para redesenhar a cidade; a reconstrução de Lisboa depois do grande terremoto de 1755, sob a direção do marquês de Pombal (1699-1782); e a destruição da velha Paris e a sua reconstrução sob Napoleão III (1808-1873) e o barão Georges-Eugène Haussmann (1809-1891), prefeito do antigo departamento do Sena entre 1853 e 1870.
O texto de abertura discute a transformação pela qual Londres passou durante os séculos XVII e XVIII, inicialmente sob a direção de Inigo Jones (1577-1652), considerado o primeiro arquiteto inglês, o primeiro também a estudar Arquitetura na Itália, responsável por obras irretocáveis como a Queen´s House (1616), em Greenwich, e a Casa dos Banquetes de Whitehall (1622). Ele também desenhou a piazza (praça) do Convent Garden, bem como uma igreja, da qual hoje pouco resta, além de ter projetado um magnifíco palácio para o rei Charles I (1600-1649) que nunca seria construído.
Como observa o autor, a guerra civil de 1642 acabou com a carreira de Jones, mas a sua influência inspirada na arquitetura clássica de Roma e na Itália Renascentista permaneceu entre os arquitetos que projetaram a reconstrução de Londres depois da grande epidemia bubônica (peste negra) de 1665-1666, que matou cerca de cem mil pessoas, ou seja, um quarto da população de Londres, e o grande incêndio de 1666, que destruiu boa parte da cidade, desde a Torre de Londres até a Fleet Street. Foi quando o arquiteto Christophen Wren criou ambiciosos planos de reconstrução da cidade, submetendo-os ao rei Charles II (1630-1685), naquele mesmo ano.
O monarca, então, acompanhado por seu irmão, James Stuart (1633-1701), o duque de York, passou a acompanhar pessoalmente a demolição de ruas inteiras de casas e a criação de uma série de aceiros (faixas de terra) para retardar a propagação do fogo. E aceitou as sugestões de Wren que previam a substituição de ruas medievais por largas avenidas e praças, incluindo uma nova catedral para substituir a Catedral de São Paulo destruída pelo gande incêndio, bem como a construção de edifícios em tijolo e pedra. Mas, depois de muitas contendas com os proprietários das casas destruídas, o único elemento do projeto de Wren implementado foi a canalização do rio Fleet. Fosse com fosse, como assinala o historiador, 130 anos depois, as ideias de Wren seriam utilizadas nas margens do rio Potomac para a construção de Washington DC, a nova capital dos Estados Unidos.
Para se ter uma ideia do desastre, o autor lembra que, antes do incêndio, Londres era uma massa amontoada de edifícios com estrutura de madeira. E recorda que, à época, em cinco dias, 200 mil pessoas ficaram sem teto e mais de 13 mil casas e prédios foram destruídos.
II
A remodelação de Londres acabou por exercer muita influência na reconstrução de Lisboa, atingida pelo terremoto de 1º de novembro de 1755, pois Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro conde de Oeiras e marquês de Pombal, secretário de Estado durante o reinado de d. José I (1750-1777), havia sido embaixador de Portugal na Inglaterra entre 1739 e 1743 e pôde contemplar diariamente as obras construídas no século anterior, já que haveria de morar em duas residências em Golden Square, no centro oeste da capital, local preferido dos membros da aristocracia e dos diplomatas.
O terremoto, seguido por um tsunami, foi o mais forte que já atingiu a Europa, destruindo cerca de 45 conventos e mosteiros, muitas casas e o Palácio Real, à beira do rio Tejo, além de afundar o cais ribeirinho, tornando tudo um monte de lixo. Mais de 15 mil pessoas morreram, mas a reação de Pombal foi rápida e eficaz, ao determinar o enterro dos mortos e até a remoção de corpos para alto-mar a fim de evitar a propagação de doenças, além de baixar medidas rigorosas para evitar o aumento dos preços de alimentos essenciais. Sem contar as providências que tomou para evitar saques e pilhagens, sendo os infratores sumariamente enforcados.
Como lembra Maxwell, com a ajuda dos arquitetos Manuel da Maia (1677-1768), Eugênio dos Santos (1711-1760) e Carlos Mardel (c.1695-1763), Pombal teve aprovado pelo rei d. José I (1714-1777) um plano que previa a reinvenção total do núcleo central de Lisboa, “com a anulação dos anteriores padrões de ruas e direitos de propriedade”. O plano substituiu a antiga praça real, o chamado Terreiro do Paço, pela atual Praça do Comércio, que receberia em 1775 uma estátua de bronze em homenagem a d. José I que ainda pode ser contemplada nos dias de hoje. A praça seria um local de ministérios e secretarias de governo, de comércio, da alfândega e da bolsa de valores, reproduzindo os planos de Christophen Wren para uma cidade mercantil em Londres e de Inigo Jones para o Convent Garden.
III
Por fim, Maxwell mostra a nova Paris que resultou da visão futurista de Napoleão III, um governante autoritário que manteve seu reinado por 18 anos, até ter conduzido a França a uma guerra catastrófica com a Prússia de Bismarck (1815-1898). O monarca apoiou com braço de ferro o barão Haussmann, prefeito do Sena, em sua persistência em destruir a velha Paris para introduzir sistemas modernos de água e esgoto, bem como avenidas largas e ladeadas por edifícios uniformes, que acabariam por levar o seu nome, pois ficariam conhecidos como “edifícios Haussmann”.
As obras projetadas por ele durariam menos de 20 anos e resultariam numa cidade totalmente planejada, com bulevares retos e largos, que atravessavam os cortiços medievais, valendo-se de uma legislação de confisco de propriedades privadas, o que significa que milhares de prédios e casas foram condenados e arrasados. Esse processo, que incluía o confisco de propriedades com base no direito de expropriação (eminent domain ou domínio eminente), seria confirmado depois durante a legislatura da qual era presidente Charles Auguste Louis Joseph, o conde de Morny (1811-1865), o meio-irmão de Napoelão III.
Com base nessa legislação draconiana, as obras acabariam por dar fim ao cortiços que eram uma fonte de doenças, como a cólera, responsável pela morte de mais de 30 mil pessoas entre as décadas de 1830 e 1860. Em função dessas obras de remodelação, em 1870, a cidade ganharia condutores subterrâneos de gás, com a instalação de 33 mil saídas para a iluminação pública, edifícios públicos e casas particulares. A partir daí, a Paris moderna, nova e espaçosa, já conhecida como Cidade-Luz, ofuscaria a até então invejada Londres. Haussmann também mandaria empreender grandes obras de engenharia para conduzir água por meio de novos aquedutos e poços artesianos. Foram também modernizadas muitas escolas, inclusive a famosa Sorbonne, a faculdade de Medicina. Sem contar os grandes bailes de máscaras, recepções diplomáticas e a primeira Exposição Universal, em 1855, que Haussmann mandaria organizar.
Haussmann, por determinação de Napoleão III, também procurou criar em Paris os grandes parques de Londres, como o Hyde Park e St. James Park, que tanto o monarca havia admirado durante o seu exílio na capital inglesa. E que foi a origem da construção do Bois de Boulogne e de outros grandes parques parisienses.
Na conclusão de sua pesquisa, Maxwell observa que, enquanto, hoje, as ruas de Londres permanecem tal como eram antes do grande incêndio, quando foi negada a Christopher Wren a oportunidade de replanejar a cidade, Lisboa e Paris continuam tal como o marquês de Pombal (e Maia, Santos e Mardel) e Napoleão III (e Haussmann) imaginaram, ambas reconstruídas para refletir a modernidade.
Eis aqui um estudo que, a partir de agora, torna-se indispensável para quem quiser conhecer ou mesmo escrever sobre a história dessas três grandes e luminosas cidades.
IV
Kenneth Maxwell foi diretor e fundador do Programa de Estudos Brasileiros do Centro David Rockefeller de Estudos Latino-Americanos (DRCLAS), da Universidade de Harvard (2006-2008), e professor do Departamento de História de Harvard (2004-2008). De 1989 a 2004, foi diretor do Programa para a América Latina no Conselho de Relações Exteriores e, em 1995, tornou-se o primeiro titular da cátedra Nelson e David Rockefeller em Estudos Interamericanos. Atuou como vice-presidente e diretor de Estudos do Conselho em 1996. Lecionou anteriormente nas universidades de Yale, Princeton, Columbia e Kansas.
Fundou e foi diretor do Centro Camões para o Mundo de Língua Portuguesa em Columbia e foi diretor de Programa da Tinker Foundation, Inc. De 1993 a 2004, foi revisor de livros do Hemisfério Ocidental para Relações Exteriores. É colaborador regular da New York Review of Books e foi colunista semanal entre 2007 e 2015 do jornal Folha de S. Paulo e é colunista mensal de O Globo desde 2015.
Foi ainda Herodotus fellow no Instituto de Estudos Avançados de Princeton e Guggenheim fellow e membro do Conselho de Administração da The Tinker Foundation, Inc. e do Conselho Consultivo da Fundação Luso-Americana. Também é membro dos Conselhos Consultivos da Brazil Foundation e da Human Rights Watch/Americas. Fez bacharelado e mestrado no St. John’s College, na Universidade de Cambridge, e mestrado e doutorado na Universidade de Princeton. É colaborador regular do site Second Line of Defense (www.sldinfo.com).
Publicou também A Devassa da Devassa – a Inconfidência Mineira: Brasil–Portugal 1750–1808 (Editora Paz e Terra, 1978), Marquês de Pombal – Paradoxo do Iluminismo (Editora Paz e Terra, 1996), A Construção da Democracia em Portugal (Editorial Presença, 1999), Naked Tropics: essays on empire and other rogues (Psychology Press, 2003), Chocolate, piratas e outros malandros (Editora Paz e Terra, 1999), Mais malandros – ensaios tropicais e outros (Editora Paz e Terra, 2005) e Kenneth Maxwell on Global Trends – an historian of the 18th century looks at the contemporary world (Robbin Laird, editor, Second Line of Defense, 2023), entre outros.
Em maio de 2004, renunciou ao cargo de diretor de Estudos Latino-Americanos do Conselho de Relações Exteriores de Nova York por ter criticado Henry Kissinger (1923-2023), ex-secretário de Estado dos Estados Unidos (1973-1977), em resenha de livro sobre o golpe de Estado encabeçado por Augusto Pinochet (1915-2006), no Chile, em 1973, e de não ter tido uma resposta publicada na revista Foreign Affairs.

Adelto Gonçalves é jornalista, mestre em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-americana e doutor em Letras na área de Literatura Portuguesa pela Universidade de São Paulo (USP), é autor de Gonzaga, um Poeta do Iluminismo (Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999), Barcelona Brasileira (Lisboa, Nova Arrancada, 1999; São Paulo, Publisher Brasil, 2002), Fernando Pessoa: a Voz de Deus (Santos, Editora da Unisanta, 1997); Bocage – o Perfil Perdido (Lisboa, Caminho, 2003, São Paulo, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo – Imesp, 2021), Tomás Antônio Gonzaga (Imesp/Academia Brasileira de Letras, 2012), Direito e Justiça em Terras d´El-Rei na São Paulo Colonial (Imesp, 2015), Os Vira-latas da Madrugada (Rio de Janeiro, Livraria José Olympio Editora, 1981; Taubaté-SP, Letra Selvagem, 2015), O Reino, a Colônia e o Poder: o governo Lorena na capitania de São Paulo – 1788-1797 (Imesp, 2019), entre outros. E-mail: [email protected]
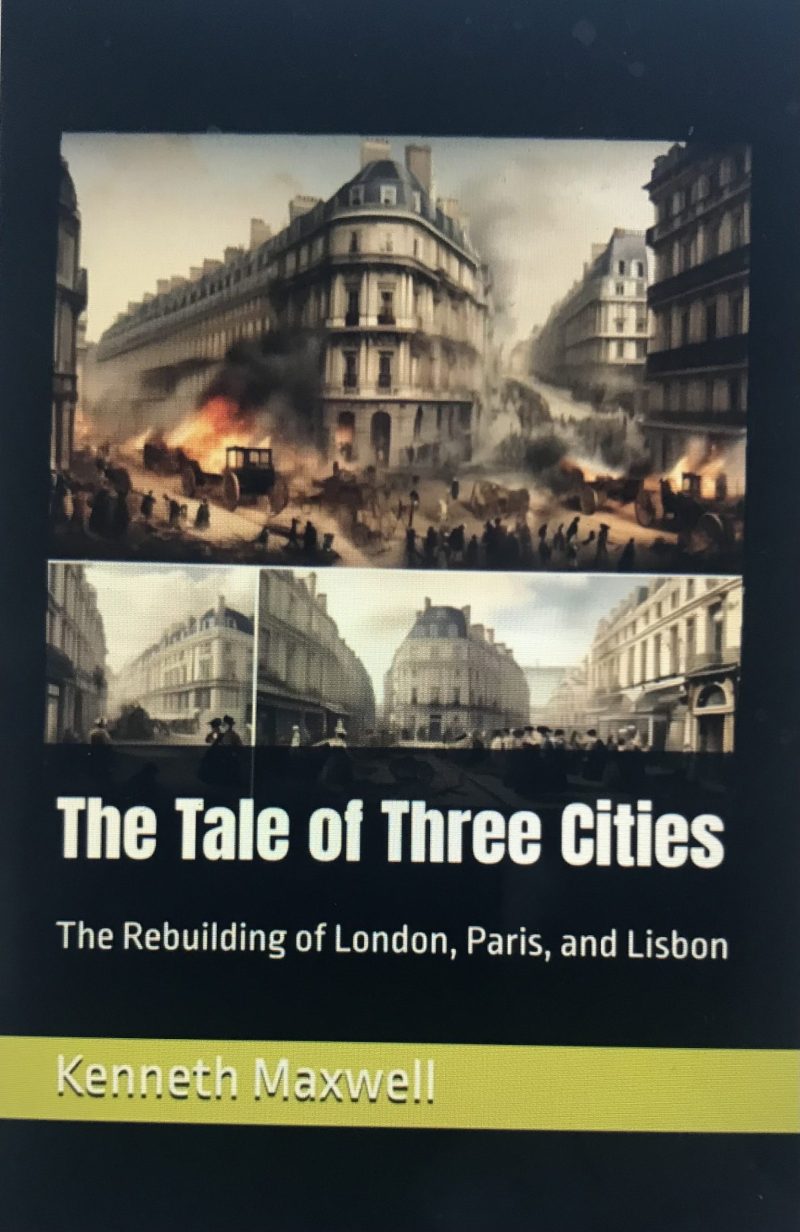
Deixe um comentário