I
Decifrar a imagem mítica de quatro Antígonas – duas europeias, duas latino-americanas, todas escritas num contexto de estado de exceção e, obviamente, totalitário – é o que busca a professora e atriz Flávia Almeida Vieira Resende em Antígonas – Apropriações políticas do imaginário mítico (Belo Horizonte, Editora da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, 2023), originalmente apresentado como tese de doutoramento na Faculdade de Letras da UFMG, em 2017.
A partir do texto fundador do dramaturgo grego Sófocles (497/496a.C-406/405a.C.), um dos mais importantes escritores de tragédia ao lado de Ésquilo (525/524a.C-456/455a.C) e Eurípedes (ca.480 a.C-406a.C.), a autora procura analisar as formas de organização do imaginário mítico de Antígona (em grego Ἀντιγόνη), figura da mitologia grega, irmã de Ismênia, Polinice e Etéocles, todos filhos do casamento incestuoso de Édipo e Jocasta.
Para quem desconhece o mito, é preciso dizer que esta versão clássica sobre a Antígona é uma das três obras que compõem o que ficou conhecido como Trilogia Tebana, da qual também fazem parte Édipo Rei e Édipo em Colono.
Essas três peças foram unidas posteriormente e não faziam parte da mesma trilogia quando Sófocles as escreveu. Como se sabe, a linhagem de Antígona está marcada por grande selvageria, já que Édipo, numa guerra, sem saber, mata o próprio pai e casa-se com a própria mãe.
Filha de Édipo e Jocasta, Antígona é um exemplo do amor fraternal, pois foi a única filha que não abandonou Édipo quando este foi expulso de seu reino, Tebas, pelos seus dois filhos.
Seu irmão, Polinice, tentou convencê-la a não partir do reino, enquanto Etéocles manteve-se indiferente. Antígona acompanhou o pai em seu exílio até sua morte e, quando voltou a Tebas, seus irmãos brigavam pelo trono.
Ao seu retorno, desafiaria a proibição do rei Creonte de enterrar seu irmão Polinice, que foi considerado um traidor.
Creonte, então, encaminha Antígona para a morte e Hemon, seu filho e noivo de Antígona, tenta alertar o pai para o ato tirânico, mas sem sucesso, o que o leva ao suicídio, ao constatar a morte de Antígona.
Em resumo: o tema central da peça é um confronto entre leis humanas e leis divinas, ou entre o direito positivo e o direito natural.
II
Bem pesquisada e escrita em linguagem erudita, a obra como projeto surgiu quando a autora ensaiava a peça Klássico (com K), do Mayombe Grupo de Teatro, em Belo Horizonte, em 2012, como atriz no papel de Antígona.
“Já naquele momento, a escolha da personagem foi motivada por uma inquietação que ela me provocava, especificamente por sua capacidade de resistência política”, conta na introdução.
Ainda neste texto de abertura, ao explicar a razão da escolha por um tema extremamente difícil, a autora diz que as versões que surgiram a partir da apropriação desse mito trágico suscitaram novos recortes “com imagens que adquiriram um sentido de resistência em sua própria época”.
Como se lê na contracapa, as imagens construídas em cada uma das peças analisadas assumem uma posição por meio “do que se diz e do que se cala, do que é mostrado e do que é ocultado em relação à primeira imagem mítica”.
Desse modo, a autora trata de analisar “quais são essas formas de organização do imaginário mítico de Antígona e como este é utilizado para pensar as formas de organização política de determinados espaços e tempos”.
III
O trabalho de Flávia Resende está dividido em três partes. A primeira, “Antígona desde a Grécia Antiga”, contempla o imaginário mítico inicial criado em torno de Antígona, a partir, especialmente, da tragédia de Sófocles, trabalhando as bases sobre as quais se funda.
“Passamos, inicialmente, pelos contornos históricos e míticos da tragédia sofocliana, e pelos principais pontos que a configuram: o embate entre Antígona e Creonte, a relação entre irmãos”, explica a autora. A partir daí, ela procura estabelecer o fundamento trágico em Antígona que está por trás das peças que tratou de analisar em seu trabalho.
Na segunda parte, no capítulo 2, “Antígona no contexto da Segunda Guerra Mundial”, apresenta a personagem no contexto europeu do final daquele conflito (1939-1945), mais especificamente com Antígona, de Jean Anouilh (1910-1987), texto de 1944 que, embora seja considerado símbolo da Resistência Francesa, por ser aberto e maleável, agradou aos resistentes e aos colaboracionistas, a ponto de passar pela censura alemã. Escrito à época da estadia da autora na França, foi resultado de várias consultas a estudiosos, especialmente à professora Ariane Eissen, da Université de Poitiers.
No terceiro capítulo, Flávia Resende trata da Antígona de Sófocles, de Bertold Brecht (1898-1956), peça escrita três anos após o término da Segunda Guerra Mundial, quando o dramaturgo voltava do exílio.
“O que Brecht propõe, a nosso ver, é a inserção de causas e responsabilidades históricas pelos sofrimentos de Antígona e da população tebana naquele momento de guerra”, diz.
E acrescenta: “Assim, ele pôde aproximar a tragédia sofocliana da tragédia do povo alemão, em um sentido próximo ao que Raymond Williams (1921-1988) entende por tragédia: acontecimentos e padecimentos irreversíveis, mas que, no entanto, poderiam ter sido evitados”.
IV
A terceira parte, “Antígona na América Latina”, traz reescrituras de Antígona nos contextos latino-americanos de ditadura militar na Argentina e no Peru.
A primeira peça analisada é a da escritora argentina Griselda Gambaro, Antígona furiosa, na qual “é a mulher quem dá a última palavra”.
Nessa peça, de 1986, com a ditadura já terminada, há o drama dos corpos insepultos, em meio a diversos decretos que procuram normalizar a impunidade e conceder anistia também aos torturadores e assassinos.
“A referência às “loucas” das Madres de la Plaza de Mayo pode ser vista nos julgamentos que os outros personagens fazem de Antígona, mas também na força de resistência dessa personagem”, observa a autora.
O último capítulo trata da peça Antígona, trabalho coletivo do poeta peruano José Watanabe (1945-2007) e do grupo de teatro Yuyachkani, escrito em 2000 e que contextualiza o período do conflito armado ocorrido no Peru entre 1980 e 2000, em que o grupo Sendero Luminoso, o Movimento Revolucionário Tupac Amaru e as Forças Armadas criaram um fogo cruzado que atingiu especialmente a população rural e indígena (de fala quéchua), dizimando mais de 69 mil pessoas.
Em resumo: tanto na peça argentina como na peruana, a personagem Antígona, ao desafiar a ordem estabelecida por Creonte para enterrar seu irmão Polinices, é utilizada como símbolo de resistência contra a tirania e a injustiça, sendo invocada em contextos de luta por liberdade e direitos.
Nas considerações finais, Flávia Resende observa que o que a fez unir as versões europeias e latino-americanas do mito é que “todos os contextos de reescritas de Antígona tinham em comum a proximidade com a instauração de estados de exceção, de governos totalitários, em que era preciso criar forças de oposição”.
Por fim, a autora anexou à análise entrevista que fez, em 2015, com Teresa Ralli, atriz, escritora, diretora de teatro e professora da Pontifícia Universidad Católica del Perú, que foi quem deu início ao projeto da Antígona peruana, que seria depois acolhido pelo grupo Yuyachkani e pelo diretor Miguel Rubio Zapata e, posteriormente, pelo poeta José Watanabe.
V

Flávia Almeida Veira Resende é doutora em Literaturas Modernas e Contemporâneas pelo Programa de Pós-graduação em Estudos Literários da Faculdade de Letras da UFMG, com período sanduíche (Capes/PDSE) na Université de Poitiers (França) e na Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima), com tese premiada como a melhor do ano.
É mestre em Teoria da Literatura pelo mesmo programa (bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de Minas Gerais – Fapemig) e graduada em Letras pela UFMG (2010).
É também atriz formada pelo Centro de Formação Artística (Cefar) – Palácio das Artes, de Belo Horizonte.
Realizou pós-doutorado na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Mato Grosso do Sul (MS), com pesquisa sobre a relação entre arte e ditadura na América Latina atual.
Tem experiência nas áreas de Literatura e Artes, com ênfase em dramaturgia, atuando principalmente nos seguintes temas: atualização de textos clássicos, teatro político, teatro brasileiro e dramaturgia contemporânea.
Atualmente, faz pós-doutorado na UFMG, com bolsa da Fapemig, sobre reescritas de Antígona no Brasil.
__________________________________
Antígonas – Apropriações políticas do imaginário mítico, de Flávia Almeida Vieira Resende. Belo Horizonte: Incipit Linguística, Letras e Artes/Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 290 páginas, R$ 40,00, 2023. Site: www.editoraufmg.com.br E-mail: [email protected]

Adelto Gonçalves é jornalista, mestre em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-americana e doutor em Letras na área de Literatura Portuguesa pela Universidade de São Paulo (USP). É autor de Gonzaga, um Poeta do Iluminismo (Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999), Barcelona Brasileira (Lisboa, Nova Arrancada, 1999; São Paulo, Publisher Brasil, 2002), Bocage – o perfil perdido (Lisboa, Editorial Caminho, 2003; Imprensa Oficial do Estado de São Paulo – Imesp, 2021), Tomás Antônio Gonzaga (Imesp/Academia Brasileira de Letras, 2012), Direito e Justiça em terras d´el-Rei na São Paulo Colonial (Imesp, 2015), Os vira-latas da madrugada (Rio de Janeiro, José Olympio Editora, 1981; Taubaté-SP, Letra Selvagem, 2015) e O Reino, a Colônia e o Poder: o governo Lorena na capitania de São Paulo 1788-1797 (Imesp, 2019), entre outros. Escreveu prefácio para o livro Kenneth Maxwell on Global Trends (Londres, Robbin Laird, editor, 2024), lançado na Inglaterra. E-mail: [email protected]
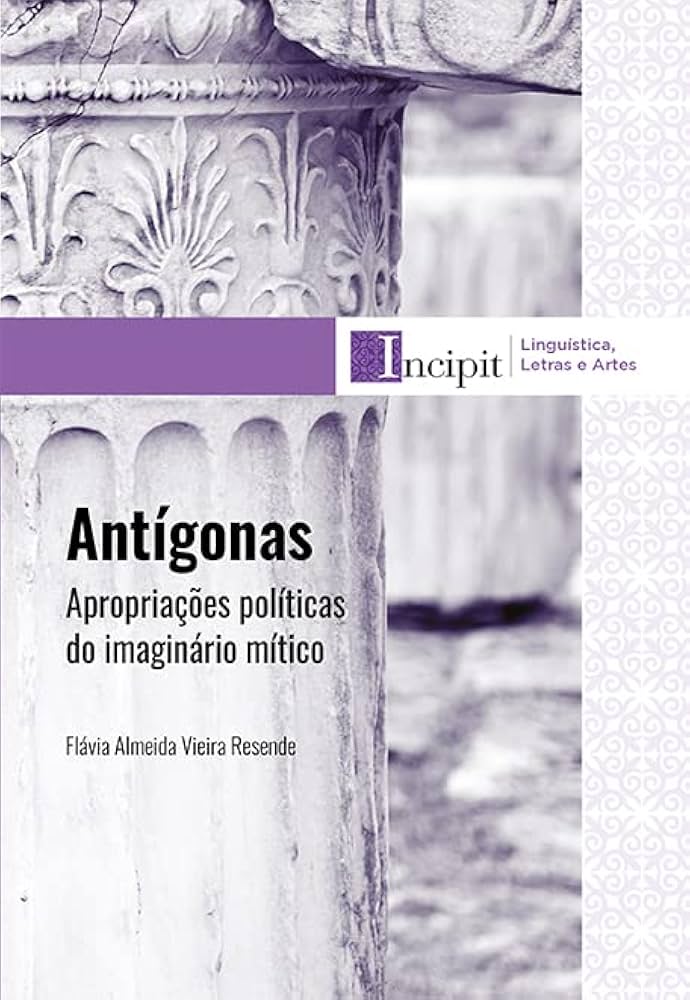
Deixe um comentário